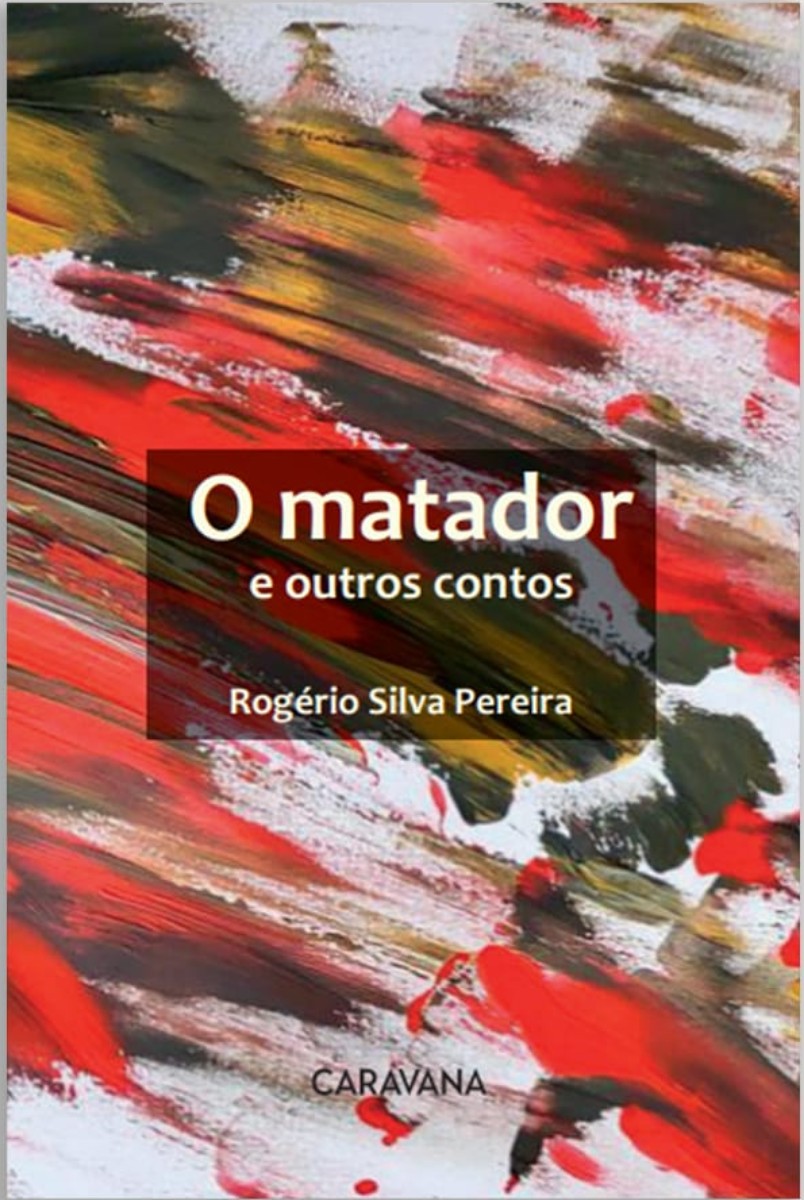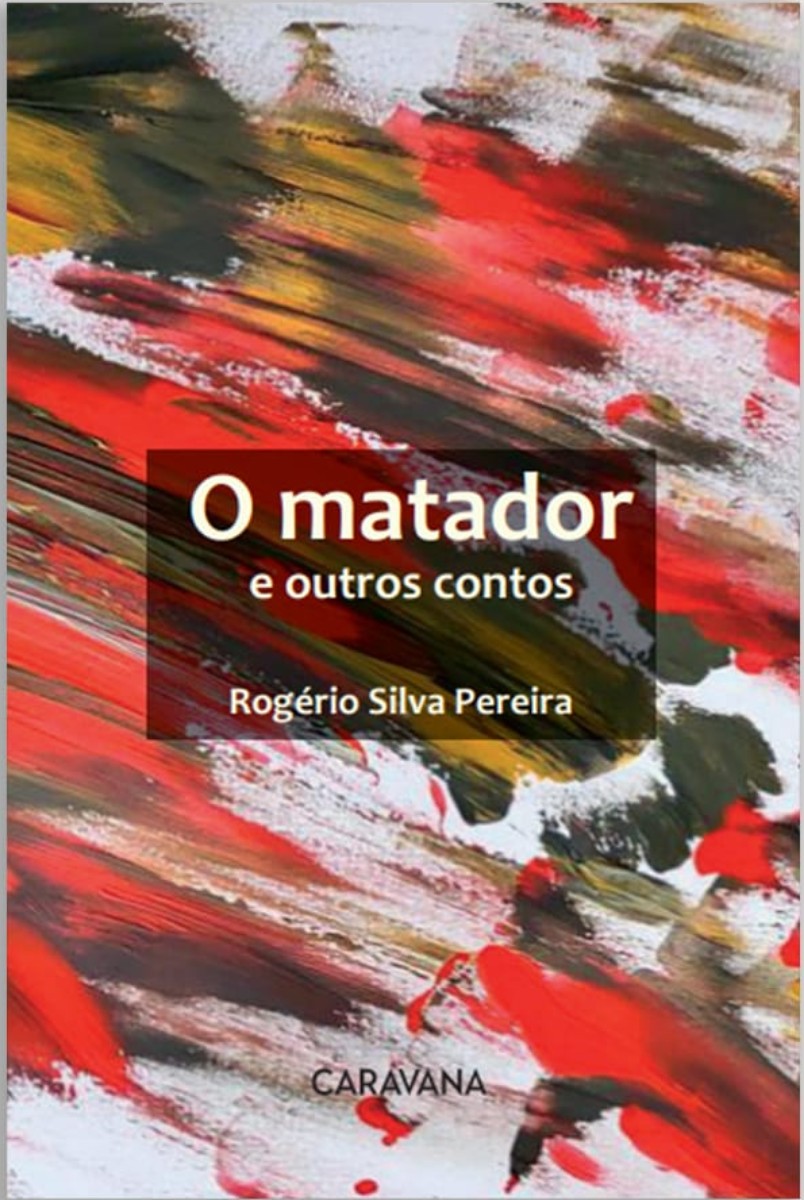
|
ENTREVISTA DE ROGÉRIO SILVA
PEREIRA A HENRIQUE PIMENTA ACERCA DO LIVRO O
MATADOR (E OUTROS CONTOS)
ROGÉRIO SILVA PEREIRA é mineiro, radicado em
Dourados-MS. Na condição de artista literário,
expressa-se como contista, romancista, poeta e
dramaturgo. É professor associado da Universidade da
Grande Dourados (UFGD), onde ministra aulas de
Literatura Brasileira.
Esta entrevista concentra-se no livro de estreia de
Rogério: “O matador e outros contos”, publicado em
2022.
1. HENRIQUE PIMENTA – Rogério, o título “O matador e
outros contos” já apresenta indícios do que o leitor vai
encontrar ao abrir o livro. A maior parte das histórias
é constituída por narrativas policiais, ou pelo menos
flerta com o policialesco. Quando a morte não é fato, a
morte é sugerida. Outro elemento digno de nota, nos seus
contos há um destaque especial para o uso das armas
brancas faca e punhal. Poderia comentar acerca dessas
opções no seu livro: narrativa policial, armas brancas e
mortes? Rubem Fonseca é, por acaso, seu autor de
cabeceira?
1. ROGÉRIO SILVA PEREIRA – Henrique, meu amigo,
primeiramente, obrigado pela oportunidade de refletir
sobre esse meu livro. Obrigado pela leitura e obrigado
pelas excelentes perguntas que dão a medida da
importância que você, escritor virtuoso e leitor atento,
dá para o livro. Oxalá, outros possam lê-lo com sua
atenção e generosidade. Começo pelo fim, nessa pergunta.
Fonseca está longe de ser meu escritor favorito. Pela
ordem: Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, J. L. Borges e
E. A. Poe. O “Grande Sertão: Veredas” é o melhor romance
de todos. “Meu tio o Iawaretê”, “A terceira margem do
rio” (Guimarães), “A forma da espada”, “As ruínas
circulares” (Borges) e “O gato preto” (Poe) são os
contos que me estimularam a escrever contos. Para ficar
nessa temática dita fonsequiana: muito antes de Rubem
Fonseca, estão Paulo Lins, de “Cidade de Deus” e o
próprio filme homônimo de Fernando Meirelles e Kátia
Lund. São decisivos. Para constar, diga-se o seguinte:
sabe-se que o livro de Lins teve curadoria de Fonseca –
então, há algo, por tabela, de R. Fonseca aqui. E só
agora, a partir da sua pergunta, penso no seguinte: a
temática policial está nos meus contos porque ela é o
“outro lado da moeda”. Creio que os contos de “O matador
e outros contos” não são “policialescos”. O enfoque
principal está nos bandidos, pensados como marginais.
Tenho certa atração pelos miseráveis marginais que são
uma linhagem consolidada em literatura brasileira. O uso
do cachimbo põe a boca torta. São anos lendo textos em
que marginais são abordados. Sertanejos, retirantes,
favelados, marginais urbanos; seus correlatos:
cangaceiros, traficantes, etc. Seus algozes: os
policiais. É daí talvez que venha, para mim, esse apego
ao bandido (Meirelles), muito antes do policial (José
Padilha, de “Tropa de Elite”). Riobaldo é o personagem
modelar pra mim – um cangaceiro/bandido, não esqueçamos.
Diadorim é outro/outra. A minha Martha, de “O manual”,
primeiro conto de “O matador e outros contos”, é prima
de Diadorim, a donzela guerreira, inspirada, como se
sabe, na Joana D’Arc, personagem histórica, heroína
francesa. Riobaldo é filho e neto de D. Quixote. Filho
de Cervantes, portanto. Eis a máxima da vida deste
escritor espanhol: primeiro viver, depois narrar.
Riobaldo é correlato: ele é o cangaceiro que conta, já
na velhice, sua vida que se deu na bandidagem.
Guimarães, então, é o grande mestre. Sua força como
narrador está em fundir essa vivência (falsa) de
Riobaldo com o balanço de vida confessional (também
falso) que o próprio Riobaldo faz de si. Magistral.
Existe uma imagem clássica de Miguel de Cervantes, fácil
de encontrar na internet, o escritor, idoso, sentado à
mesa com a pena suspensa, parece que dá uma pausa na
escrita. Na parede, o escudo e a espada. Ao fundo, uma
estante com os grandes clássicos da tradição literária.
É o modelo. Num resumo: as facas são antes de tudo de
Borges. Para mim, facas são versões enfraquecidas e
acanalhadas, suburbanas e marginais, das espadas (estas,
épicas). A espada, por sua vez é metáfora das canetas e
penas. Quem souber ler, sabe que, numa batalha dos
velhos tempos, o que se tem são escritas com lanças e
espadas feitas na carne humana. Cada golpe de espada é
uma assinatura, uma rubrica. Como está na imagem citada
de Cervantes, a pena é derivação da espada na parede.
2. HP – Devido à qualidade estética com que seus contos
foram construídos, é muito difícil escolher o melhor.
Mas eu me atrevo a dizer que um de meus contos
prediletos do seu livro é “Piedade”, porque, além de ser
formalmente irretocável, apresenta múltiplas camadas
semânticas, abordando um tema muitíssimo delicado,
envolvendo sexualidade e maternidade, em doses tanto
sombrias quanto solares. Eu creio que um autor deva ter
muita coragem para escrever um texto tão denso quanto
esse, desde o projeto, passando pela redação inicial, os
ajustes e revisões, até chegar ao ponto final. Como foi
a experiência de escrita de “Piedade”?
2. RSP – “Piedade” tem aproximadamente 18 anos. Tem como
título inicial “Pietá”. Depois, achei que era muito
engravatado e óbvio e deixei como está hoje. O que foi
boa escolha. Uma moça real, negra, muito raquítica,
andrógina, num sinal de trânsito de uma grande cidade me
inspirou. Ela pedia esmola com um menino mulatinho,
quase branco, que, desconfiava, não fosse filho dela. Da
minha dúvida sobre a maternidade daquela moça surgiu o
conto. Fiz a conexão: uma mãe com seu filho, mas não
numa tragédia. Não numa cena cristã mítica e, ao mesmo
tempo, idealizada, europeia e canônica. Não assim. A
matriz era Michelangelo – como você acabou mostrando. A
ideia inicial era fazer uma paródia disso. Numa feliz
coincidência, a correspondência mais atual é a imagem de
abertura das Olimpíadas deste ano, 2024. Uma imagem de
Leonardo, pintada em Milão, tornada universal, pois que,
além de tudo, calcada na Bíblia, “subvertida” pra
afirmar a dita diversidade. Causou polêmica e bilhões de
cliques. Fiz algo parecido, mas sem a deliberação final
de ser paródia. Não queria atacar a cultura europeia.
Antes, queria integrar aquela personagem na maternidade
ocidental, na humanidade em geral e na vida brasileira.
Os fundamentos são todos estéticos: o primeiro está na
teoria milenar da tragédia. Produzir medo e piedade
(pena). O conto tem ambos e tem também catarse. Ao fim,
nos identificamos com essa personagem – ela é humana
para nós. A pergunta inicial: é possível que nos
identifiquemos com uma negra, trans, miserável,
marginal? O conto se esforça para produzir essa
identificação. Se esforça para confirmar que sim, é
possível. Outro fundamento: achar o sublime no prosaico
(que vemos em M. Bandeira e muito em R. Braga). No mais
baixo e provinciano (um carpinteiro, nascido na
Galileia, que talvez ame uma prostituta, etc.); neste
baixo/provinciano encarna-se o mais alto, Deus Criador.
Por outro lado, e em certa medida, essa mulher trans
negra sou eu (!). É o meu medo de não ser amado pelas
pessoas ao ponto de não quererem que eu viva. E a
redenção dessa mulher é a minha própria, em vista da
qual estou sempre distante. Penso sempre que a empatia
será sempre uma pena de si mesmo; uma piedade de si
mesmo. Ter pena de alguém é, antes de tudo, se
identificar com esse alguém. Só assim há empatia e
identificação na tragédia. Bem entendido, o conto flerta
com a tragédia – sendo o final feliz o bom antídoto que
nos livra da desgraça de fato. Este conto realiza, além
disso, um outro fundamento que é o descontrole inerente
à vida. Máxima: se quiser representar a vida em
histórias (que escreve, encena ou filma), deixe o acaso
agir. Os homens tentam controlar a vida; querem que tudo
se dê conforme seus planos. Se há planos, desmanchar
tudo, fazer tudo dar errado. É bom fundamento. Como é
que, enfim, as coisas dão certas para Luana? A porta do
banheiro estava aberta? Como o menino escapou dali? O
menino podia ter simplesmente ficado ali quietinho –
certo – imóvel no banheiro? Mas decidiu correr e abraçar
Luana. Decidiu gritar, como todo filho, “Mamãe”, e
abraçar Luana. Essa sucessão de acontecimentos é
imponderável e inesperada. Se não fossem esses
acidentes, Luana estaria morta pelo tiro de Hélio. E,
além disso, o conto também pergunta: qual a autoridade
que a criança tem? Nesse conto, ela tem toda autoridade
– e no livro há outros momentos em que crianças,
meninos, têm autoridades. O que vemos no nosso presente
de pais e tios, no geral, são crianças com uma
autoridade chocante. Verdadeiros reizinhos mimados.
Nesse conto, a criança é uma autoridade que cala todos,
que modifica as vontades e deliberações – uma autoridade
positiva. Mas, em outros, nem tanto – ver, p. ex.,
“Latejando”. Há mais, mas talvez eu já esteja
mistificando. Inserindo coisas que pensei depois do
conto já pronto. Coisas que estou pensando só agora, em
função das suas ótimas questões.
3. HP – Em vários contos, você trabalha de forma
espetacular com as seguintes opções discursivas, o
diálogo e o monólogo, com incursões, por vezes, no fluxo
de consciência. Com isso, estou afirmando que o contista
Rogério Silva Pereira é um hábil manipulador de falas e
de pensamentos de seus personagens e de seus narradores.
Para ficarmos com apenas dois exemplos, no conto
monologal “Pessoas”, assim como no conto dialogal “Tiro
de misericórdia”, as tramas são desveladas aos poucos,
de acordo com as falas e/ou os pensamentos dos
personagens. Tudo é construído (ou desconstruído?) por
meio de estratégias discursivas milimetricamente
calculadas. Agora, explique, se for capaz, como aprendeu
a manipular tão bem as estratégias discursivas da
narrativa breve? Você tem consciência de seu poder no
uso de diálogos e monólogos?
3. RSP – Henrique, primeiro, preciso agradecer os
elogios. Não sei se uso “estratégias milimetricamente
calculadas”. Então, não sou capaz de explicar. O que
posso dizer é que o trabalho é sempre de copiar
pacientemente o que já foi escrito por outros, imitando,
porém, modificando. Como a personagem Martha de “O
manual”. O narrador de “Pessoas” é uma mescla de “Meu
tio o Iauaretê” (Guimarães Rosa) e de “Passeio noturno,
parte I” (Rubem Fonseca). A ideia é colocar juntos um
algoz e uma vítima para “dialogarem”. Porém, a vítima
está calada e o “serial” fala. No final, a ideia é que o
leitor se identifique com aquele ouvinte calado – que é
uma vítima. Entramos no conto como meros leitores; ao
final, somos a própria vítima. É uma armadilha. A pista
está numa fala do “serial” feita, quase no final:
“Calma. Não adianta tentar se soltar. Os nós estão bem
atados. O máximo que pode acontecer é o arame cortar
mais fundo os seus pulsos” (p. 39). Um pouco presunçoso,
mas divertido. “Os nós estão bem atados”, isto é: a
trama do conto está bem amarrada, não adianta fugir. Se
isso é verdade, já era! Como se diz por aí: “você caiu
que nem um patinho”. Aos poucos vamos lendo e, de
repente, saímos da condição passiva de leitor – somos a
vítima que vai ser sangrada, sacrificada com uma
faca(!). Em “Passeio noturno, parte I” temos o
pensamento de um “serial killer”. Entramos na cabeça
dele via monólogo interior – que (querendo ou não,
modernista, “joyceano”, genial ou não) é artificial.
Para contraste, vamos a Guimarães Rosa. Este não tem
nada de joyceano, com alguns dizem. No seu romance mais
importante, “Grande Sertão: veredas”, a forma narrativa
não é o monólogo interior ou mesmo o fluxo de
consciência. Aquilo que temos em ao menos três obras
dele (o citado “Grande sertão: veredas”, o “Meu tio o
Iauaretê e “A terceira margem do rio”) é outra coisa,
totalmente diversa e original. É artificial? Um pouco.
Uma vez que ali há histórias em que temos três homens
narrando, em voz alta, mas uma voz que chega até nós via
escrita. Ou seja: narrativa falada, mas representação
escrita. É, sim, artificial. Na contramão, há um
narratário, que participa, em certa medida, da história,
que está dentro da história. E registre-se: esses textos
de G. Rosa são, antes de tudo, confissão. Alguém cala
enquanto alguém fala. Nesse sentido, “Pessoas” também é
uma confissão. Rosa, propositalmente, constrói uma
narrativa em que silencia as manifestações verbais de
seus narratários. O que dizem não importa para o
desenvolvimento da história – então, suas falas são
silenciadas. Em “Pessoas”, tento replicar esse recurso
de Rosa que foi pouco usado até agora. Uso numa história
urbana que fala do consumo, da psicopatia, da solidão. –
ao modo de Fonseca, diga-se. E G. Rosa usa-o em
histórias rurais. Que bom que você leu o “Tiro de
misericórdia”. Dou uma dica: é uma profecia e é uma
partida de futebol. Uma pena que não coloquei uma data.
Mas é de 1998, depois da derrota (0 X 3) do Brasil para
a França, em St. Denis, cidade/estádio francês. Os nomes
todos dos personagens estavam naquela partida (Ro-Naldo,
Denilson, Sampaio, Mario Jorge – Lobo Zagallo).
Profecia: resolvi colocar o matador ali como “Alemão” –
mudados os nomes, eis a derrota para os alemães no
Mineirão (1 X 7), em 2014. Tentei desenvolver uma frase
que aparece em “Cidade de Deus”. “Falha a fala, fala a
bala”, logo nas primeiras páginas. Uma pena que não
coloquei a epígrafe. Os travessões com “zim, zim” são os
sons dos tiros zunindo – as balas falando. Também as
reticências querem ser tiros – munição traçante.
Obrigado pela pergunta!
4. HP – Estava dia desses conversando com o nosso amigo
Luciano Serafim, também escritor, e falávamos acerca do
tempo que você gastou compondo a sua estreia literária.
Salvo engano, foram consumidos cerca de 30 anos
trabalhando o que viria a ser “O matador e outros
contos”. Até o Luciano comentou: “Como ele segurou a
ansiedade, demorando tanto a publicar, numa época em que
as pessoas têm pressa em publicar e ser lidas, muitas
vezes em detrimento do amadurecimento do texto? Isso é
um verdadeiro ato de heroísmo...”. Pois bem, Rogério,
esses 30 anos foram de heroísmo, ou de receio, ou de
perfeccionismo, ou de tudo isso, ou de “nada a ver”?
4. RSP - Não ia publicar esses contos. Tenho muito amor
por eles, mas não tinha certeza sobre a qualidade em si.
Eram, antes de tudo divertimentos, etc. Mas precisava de
uma promoção na universidade e, como a nossa carreira
exige publicações, decidi publicá-los. Não desagradei da
edição. Os contos estavam empoeirados – como se diz, “na
gaveta”. Não há perfeccionismo, mas reconheço que fui
ajustando-os ao longo dos anos. Houve, sim, receio.
Sempre fui, por ser professor de literatura, crítico
literário. Leitor profissional de literatura. Como já
disse o Luciano Serafim, a “transição” sempre é difícil
– e foi o que retardou tudo. Foi difícil sair do
armário. Porém, se uma coisa define o conto
(tradicional) na sua essência é o seguinte: O conto, ao
contrário do romance, é obra do tempo. O romance, como a
crônica, é “panfleto”. Produto de “hoje para hoje”. Se
deixar para amanhã, corre-se o risco de ficar velho. Se
bobear, se não for publicado de uma vez – já era. O
romance quer intervir no seu tempo, no agora. Por sua
vez, o “verdadeiro” conto, o conto tradicional, passa de
mão em mão, não tem dono (é anônimo), é contado aqui e
ali, como os contos das “Mil e uma noites”, por séculos,
de avós para netos, sempre úteis, sempre servindo ao
aconselhamento. O conto é como o seixo no rio do tempo:
vai girando, atritando-se, aperfeiçoando-se,
arredondando-se. Se o conto moderno (escrito do século
19 para cá) tem algo que o faz aparentado com este conto
tradicional que descrevo acima é isso – o tempo que
“vemos” condensado nele. Assim, se o meu conto ambiciona
algo do conto tradicional é a sua modéstia de ficar aí
rolando como seixo, sem dono, até ser útil pra alguma
coisa. Como diz o Chico Buarque: “não se afobe não que
nada é pra já”.
5. HP – Existe uma pergunta para escritores que é
“batata”, a pergunta acerca de suas influências. Eu não
posso fugir a essa “batatalogia”, portanto. Ao ler os
seus contos, percebi nas linhas e entrelinhas alguma
coisa de, além do já citado Rubem Fonseca, Guimarães
Rosa, Graciliano Ramos e Luiz Vilela. A minha percepção
confere? Fale um pouco de suas influências na área do
conto, por favor.
5 – RSP – Essa eu já respondi logo no início, na sua
primeira pergunta. Adendo: nada de Luiz Vilela que li
muito pouco (infelizmente).
6. HP – Você escreveu contos tanto na cidade em que está
radicado hoje, Dourados (MS), como em Brasília (DF),
Belo Horizonte e Coronel Fabriciano (MG), conforme está
anotado no livro. Isso ocorreu, provavelmente, devido a
seus deslocamentos por motivação profissional. Gostaria
de saber se a geografia específica de cada região – em
que você viveu e escreveu – foi determinante para compor
algum aspecto importante de seus contos.
6. RSP – A geografia em si, não. Certo regionalismo que
ali ocorre é do gênero. Elementos que estão mais na
literatura do que na vida real. Mas a vivência urbana de
Belo Horizonte, cidade em passei mais tempo da minha
vida, formadora, por assim dizer – está muito presente
nesses contos. Fui a Corumbá recentemente. O contato com
a vegetação do Pantanal, e mesmo com a geologia (que
lindos que são os Maciços Urucum!), os jacarés
onipresentes do Pantanal. – tudo isso me fez ver o
quanto sou ignorante, o quanto o meu canavial é “fake”,
o quanto a minha selva é “fake” – meros clichês.
Lamentavelmente, não sei o nome de um mero ipê. Não sei
diferenciar um jacaré de um crocodilo – se, por acaso,
encontrar ambos. Agora: vai ler o “Grande sertão:
veredas”. A geografia, a flora, a fauna, o coração do
homem do sertão, está tudo documentado ali. Mesmo a
invenção explícita (lembrar, p. ex., do Liso Sussuarão,
que não existe de fato) dá a impressão do “in loco”, da
vivência tornada experiência, saber, etc. G. Rosa é um
documentador. O texto dele é vivo de coisas concretas.
Ainda que, como se sabe, o conteúdo de seu texto se
composto a partir de elementos retirados de catálogos e
de enciclopédia, fruto da erudição poderosa do escritor
– é texto cheio de vida concreta. Mas ali há, por outro
lado, a vivência do lexicólogo, etnólogo, entomólogo,
botânico, psicólogo, que foi o G. Rosa. Tudo,
entretanto, como eu disse, sendo cheio de concretude.
Graciliano Ramos fala muito, refletindo-se em seus
personagens. Ele diz mais ou menos o seguinte: “a
palavra escrita me deixou cego para o mundo” (ainda que
“S. Bernardo” seja um prodígio de ditados interioranos
coletados ao modo de Mário de Andrade – veja lá). Sinto
exatamente isso. Muita palavra e pouca vida. Algo
parecido, com o que diz Bento Santiago: “Conhecia as
regras do escrever, sem suspeitar as do amar; tinha
orgias de latim e era virgem de mulheres”.
7. HP – Outra curiosidade acerca de seu processo de
escrita é o seguinte: Você confia a alguém a leitura de
seus originais, alguém que leia e que opine? Ou você é
do tipo autossuficiente e que detesta que deem "pitacos"
na sua obra?
7. RSP – Sim. Ao longo da vida, minhas esposas foram
minhas leitoras – a atual e a ex. Agradeço muito a elas
pelas leituras – que, contudo, não são muitas. Não
detesto pitacos, ao contrário. Mas eles foram poucos ao
longo da vida. Sempre acho que incomodo alguém se peço
para lerem meus textos. Outro crédito: sempre fui muito
lido pela minha orientadora, profa. Ivete Walty, da
PUC-Minas, muito generosa e gentil. Mas sempre leitora
dos textos acadêmicos – nunca os textos
ficcionais.
8. HP – Algo que me intrigou bastante em seu livro,
Rogério, foi que um conjunto significativo de suas
narrativas se sustenta à base de uma busca. Há busca por
drogas, por criminosos, por ousadia para matar, por uma
foto incriminadora, por um passado, por um fantasma, por
um beijo, por uma joia rara, por um amor, pela resolução
de um trauma, pelo reatamento de uma amizade... A
busca é a presença que falta? A sua ficção pode ser
reduzida a intervalos entre buscas e prováveis
encontros, ou prováveis desencontros?
8. RSP – Não pensei nisso – a busca. Obrigado por
apontar esse aspecto. Mas, note-se, a carência é um dos
fundamentos que desencadeia as narrativas (os contos
tradicionais), a se pensar com os teóricos (W. Propp, p.
ex.). Falta alguma coisa ao herói – dá-lhe a procura! A
falta é fundamental pra mim. É na falta que há a
substituição. Um exemplo: em muitos contos de “O
matador”, a vontade é de “substituir” o pai. Não no
sentido de colocar outro no lugar dele. Mas no sentido
de “se colocar” no lugar dele. É a inveja do pai, do
poder do pai, mas também a sua falta, certo desamparo
que advém de sua ausência – que motiva alguns contos. E,
aqui, uma lembrança: o Édipo freudiano. Não
necessariamente o mito e a tragédia gregos. Mas essa
tensão entrevista na tríade do Édipo (ciúmes entre
filho/filha, mãe e pai) que Freud propõe como espécie de
modelo para explicar a vida humana (que, já sabemos, é
ambicioso e falso). Estendo – de modo muito livre e
solto, me apropriando –, esse “modelo” para alguns
contos. Não se pode deixar de pensar que a chamada
tradição literária se articula em algo que pode ser
análogo a isso. Ou seja: “pais”, voluntariamente legando
aos “filhos” seus “manuais” e estes aprendendo nestes
mesmos manuais meios de aniquilar, de superar, de
influenciar (isso mesmo!) esses pais. Daí uma metáfora,
algo óbvia: facas são espadas acanalhadas, abastardadas;
facas são canetas, são penas; facas são pênis… nessa
tradição que exclui as mulheres (mas elas existem,
claro, dentro desta mesma tradição), algo homoafetivo,
homoerótico se insinua. Por isso, as facas que se cruzam
e se tocam. Nessa luta de canetas/facas/pênis, há afetos
(ódios e amores) familiares. Nesse sentido, as armas de
fogo serão nos textos, meros desvios...
9. HP – Quase todos os narradores, em seus contos, são,
retoricamente, não confiáveis. Não confiáveis porque
tergiversam demais, ou porque vivem em estado alterado
de consciência, ou porque remontam a passados a partir
de memórias cambiantes; enfim, por esses e outros
motivos. É o que acontece já em “Manual”, o primeiro
conto do livro, em que a história é narrada em primeira
pessoa pela personagem Martha, por meio de uma carta. Ou
seja, trata-se de um conto epistolar, expresso em forma
de monólogo. Martha, em sua carta, tenta entender
situações do presente remontando a situações, algumas
trágicas, vivenciadas no passado, junto a seus
familiares. Sabendo-se que Martha é adepta de uma boa
talagada de uca e é considerada, por vezes, louca, somos
levados a desconfiar o tempo todo do que está sendo
escrito/narrado. Uma das belezas de “Manual” está
exatamente no manejo dessas artimanhas narrativas; em
especial, de uma narradora não confiável. Mas, eu me
pergunto, com uma espécie de medo, se o leitor, em
nossos dias, tão adepto de mensagens curtas (em tamanho
e em sentido), está capacitado a entrar nesse jogo
literário, que lhe exige muita atenção e alguns
pressupostos essenciais de leitura de livro e de
mundo... Será que o leitor viciado apenas nas chamadas
“mídias sociais”, acostumado a mensagens curtas,
simplórias e tolas, tem a capacidade de “interagir” com
seus narradores não confiáveis? Fique à vontade para
criticar a minha exposição; inclusive, o meu (suposto)
preconceito contra os “leitores midiáticos”.
9. RSP – O seu olhar sobre a querida Martha é ótimo.
Sim, o texto é uma carta para a irmã, Heliana, a quem
Martha vai explicitando seu amor de décadas. Amor que,
provavelmente, Heliana já sabe. Amor que nunca se
realizou – são muitos obstáculos, afinal. Muitos tabus.
No momento em que esta carta é escrita, estão ambas
maduras – 40, 50 anos? São opostas. Heliana, solar,
bela, sensual, submetendo a todos com seus encantos.
Martha, talvez miúda, feia, noturna. Uma que é plena
mulher logo cedo; outra que hesita entre sexualidades e
gêneros – não consegue ser mulher, não consegue ser um
homem! Uma “do lar”, a que ficou; a outra, do sertão,
das cavalgadas, da jagunçagem. Dentre os obstáculos eis
o pai, verdadeiro tabu – morto, contudo, “vivo”. Um pai
que resta na cabeça de Martha como algo a ser
substituído – e ela até que se sente à altura de
substituí-lo, de se colocar no lugar dele. E ele ainda
não virou lembrança, não é símbolo inerte, ainda – é um
zumbi que ronda. Está presente. Porém é uma ronda que só
Martha vê. Talvez desequilibrada, talvez alucinando –
mas quem vai saber? – ela quer matar esse pai
definitivamente. Acabar com ele, substituí-lo. Ao longo
dos anos, veio treinando para matá-lo. Aos poucos,
avalia se pode fazê-lo. Há dúvidas profundas. Não pode –
não deve – compartilhar isso com a irmã. É uma pergunta
que nós próprios fazemos para nós mesmos: como ficar
insistindo, com nossas mulheres e parentes, numa
obsessão sem que estes nos mandem para o psicólogo, nos
internem ou nos rejeitem pra sempre? A carta, por sua
vez, é a síntese dessas inquietações. Martha está indo
para a batalha da vida dela – matar o pai. Se vencer,
volta e obtém o troféu: Heliana. Caso contrário, deixa
suas palavras, seu relato. Heliana vai saber o que,
afinal, houve. Moral da história: se estamos lendo esta
carta, é por que o fantasma do pai venceu e Martha não
voltou. E um ponto importante: a carta é marca
linguística da ambiguidade que atravessa Martha.
Exemplo: só perto do fim ela consegue se articular como
a mulher que é. Só ali, seu leitor sabe que quem fala é
uma mulher. Porém, tendo tentado imitar o pai em boa
parte de sua vida, não terá ido longe demais em querer
ser homem – como retornar? Muita coisa me fez escrever
esse texto. Lembro de “Sonata de outono”, do Ingmar
Bergman (pra citar uma “influência” – se é que é
mesmo…). Filme com Liv Ulman e Ingrid Bergman. Filha e
mãe. A mãe é grande pianista, renomada, reconhecida,
rica por isso – controladora, soberana, autoritária. A
filha, por sua vez, é uma pianista fracassada que não
soube ser grande como a mãe – melhor do que a mãe. O
filme é o “duelo” (visto pelo marido daquela filha, de
longe) entre estas duas mulheres. Tento repetir isso
neste conto das facas. E veja-se a tragédia: fracasso da
filha (penso) é uma homenagem, é uma declaração de amor
à superioridade daquela mãe – a quem ela, afinal, ama e
admira. É muito difícil escrever e publicar contos
depois de G. Rosa ou J. L. Borges. Meu livrinho é uma
brincadeira em torno disso. A se levar essa dificuldade
ao pé da letra, eu me permitiria até escrever esses
contos, como fiz – publicá-los, de jeito nenhum! Tenho
sofrido com esse atrevimento que é o “Matador e outros
contos” publicado.
10. HP – Na infância, eu gostava muito da brincar com os
amigos na rua de “polícia e ladrão”. A brincadeira
consistia basicamente em dividir os participantes em
dois grupos, um de policiais e outro de ladrões. Os
policiais capturavam os ladrões e os ladrões ainda
estavam soltos tentavam libertar os capturados. Nessa
brincadeira, estavam definidos em “cláusula pétrea” os
papéis do bem e do mal. Hoje, eu tenho quase 60 anos de
idade e percebo que na “brincadeira” de seus contos é
impossível de se definir papéis, se policiais são do
bem, se ladrões são do mal. Você cria personagens que
são ambíguas, que se movimentam ardilosamente na
bivalência ética. Parece que suas personagens, no final
das contas, se recusam a atender a regras. Por acaso,
Rogério, você está projetando em sua ficção personagens
de carne e osso?
10. RSP – Obrigado pela pergunta. Na verdade, não pensei
nisso antes. Mas aproveito a pergunta para refletir,
tendo em vista meus contos.
O realismo é uma ordem. Em dois sentidos da palavra. (1)
É uma obrigação, é uma norma, é um imperativo
categórico: precisamos representar pessoas ao máximo.
Pessoas: e não virtualidades. Há muito não dá para
representar esquemas, como no melodrama: protagonistas
passivas, madrastas vilãs, homens nobres (e sem sal)
salvadores, fadas bondosas, motivações ligadas às
emoções e aos afetos, etc. É preciso ir além do “happy
end”. Capitu se casou com Bento e foram felizes para
sempre? Não! É aí que o realismo começa – tem início
justamente depois do final feliz típico dos romances
românticos. O ensinamento vem de vários mestres, mas,
sobretudo, de Machado, com o Bento Santiago.
E, além disso, (2) o realismo é uma ordem, um
ordenamento, um código: primeiro é preciso a ilusão –
depois, a desilusão. Primeiro é preciso as motivações
amorosas – depois, as “reais” motivações, isto é, a
força da grana, do interesse. Se não tiver muita ilusão,
não pode haver desilusão – penso que essa é o
ordenamento que nos foi dado. Sigo (talvez ingenuamente)
essa regra. Nos meus textos tento iludir o leitor ao
modo realista de Machado. Dar a ele uma sensação de que
estamos diante de um tipo – para, depois, ir além desse
tipo. Aprendi, p. ex., que o Chicó, do Ariano
Suassuna, é o mentiroso ingênuo. Não é uma “pessoa”, mas
um tipo. Penso comigo: o Chicó vai além de ser um tipo?
Acho que não. O personagem não é, não pode ser um tipo.
Recordo agora o Hélio, policial, chefão de milícia, que
entra na casa de Luana, em “Piedade”. Ele parece um
tipo. Mas, sendo um tipo, como é que ele muda de ideia
no final e não mata Luana – num contexto de morte certa?
Sem essa transição não há pessoas – há só tipos. É
preciso ser realista, fugir à idealização romântica.
11. HP – Conforme sabemos, você é professor na
Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). Pergunta
objetiva e direta: O professor universitário, dado a
textos acadêmicos, interfere na arte literária do
contista?
11. RSP – Acho que sim. Muito. Porém, antes de tudo, o
que quero é contar boas histórias com começo, meio e fim
– sem juízo final. O texto bom pra mim, seria o auto
medieval (p. ex., “O auto da compadecida”, como
herdeiro) sem a alegoria do julgamento final. Pessoas
(mas não tipos) em cena. Nada da adúltera, do sovina, do
padre ambicioso, do malandro, do mentiroso ingênuo,
entre outros. Pessoas – ou melhor: tipos que se revelam
personagens. Tipos que vão se tornando complexos,
deixando de serem figuras pétreas que representam certos
caráteres humanos fixos e se complexificando. Nelson
Rodrigues dizia que ele é o contrário de Brecht – pois
detestava tudo que fosse interrupção, aquele drama que
se reconhece explicitamente drama, teatro épico. Vamos
aceitar a oposição (desproporcional, talvez) para fins
de reflexão: gosto muito de Brecht – mas prefiro Nelson
Rodrigues. As surpresas no final de “O beijo no asfalto”
e de “Toda nudez será castigada”, são geniais. Gostaria
que os leitores mergulhassem nos meus contos como nas
peças de Nelson Rodrigues.
12. HP – O povo quer saber se junto ao exímio contista,
que você é, existe também um poeta, um dramaturgo, um
romancista. Você já escreveu em outros gêneros textuais?
Se sim, quando vai publicar o material? Se não, por que
não?
12. RSP – Diga ao povo, prezado Henrique, que não. Há
peças escritas (duas), um romance encaminhado – mas
travado, um livro de poemas pronto (veja só!), e alguns
contos que podem ser publicados, quem sabe. São textos
que ficam aí sendo derrotados em concursos literários –
já um pouco cansados dessa peleja inglória. Mas há a
chance de o livro de poemas sair em breve.
13. HP – A escritora argentina María Teresa Andruetto,
em seu conjunto de ensaios denominado “Por uma
literatura sem adjetivos”, reitera que a literatura de
boa qualidade estética não deve se submeter a demandas
do mercado editorial, que, por sua vez, “escolariza” a
literatura feita sob demanda para fins didáticos e
pedagógicos, ou seja, para faturar muita grana em vendas
a, principalmente, programas públicos de leitura
escolar. Desenvolve mais essa ideia, afirmando, ainda,
que o bom escritor tem “problemas com as palavras”,
“converteu as palavras em seu problema” e que ele deve
“fazer com que a palavra expressa saia do âmbito privado
e se constitua em literatura”: esse objetivo é
impossível de ser mensurado didática e pedagogicamente,
porque “excede em todos os sentidos a instituição
escola”. Pensando nos contos de “O matador”, você
concorda com as argumentações de Andruetto?
13. RSP – Na contemporaneidade, a escola é o lugar por
si em que a literatura circula – ao menos no Brasil. É
verdade que a livraria, os sarais, os festivais, os
concursos e os bancos de aeroportos são lugares em que a
literatura está presente. Mas pense-se: onde é que a
literatura circula verdadeiramente de modo maciço? Acho
que é na escola. Sem escola, aliás, não haveria hoje
sequer isso que chamamos literatura brasileira sendo
lida. Machado e Graciliano chegaram à maioria de nós via
escola – em outros tempos, talvez não. A literatura
brasileira está escolarizada. Na verdade, a maioria de
nós, escritores vivos, gostaria de estar nas listas do
vestibular. Ou seja, escolarizados. E é o meu caso. E,
creia, não para ganhar dinheiro – mas, para ser lido.
Por esses dias, fui a Corumbá lançar “O matador e outros
contos”. No evento, promovido pela querida corumbaense
Marcelle Saboya, na casa do Dr. Gabi (que é da
Prefeitura da cidade), havia alguns professores que
foram os principais interlocutores daquele momento.
Excelente, devo dizer. Pedi a eles, humilde e
insistentemente, que levassem meu livrinho para suas
salas de aulas. Isso é escolarização da literatura.
Queria ir para a escola? Sim: para ser lido, não para
que comprem meus livros, para que o livro participe de
editais do governo. Por outro lado, penso que se a
literatura tem essa força pública, desprivatizadora, que
a sua pergunta sugere, então ela deve estar na escola,
sim. Interessante pensar com a psicanalista Veja
Iaconelli que diz que, mesmo a escola privada, aquela
que reúne hoje os jovens filhos da elite, que os prepara
para o vestibular – mesmo essa escola é “pública”. Com
efeito, a escola é pública: é uma concessão pública, é
regulada por leis propostas pelo Estado, é instituição
fundante e essencial da vida republicana. A literatura
na escola pode não cumprir todo seu papel potencial de
que Andruetto fala. P. ex., explicitar os “problemas com
as palavras” inerentes à “verdadeira” literatura. Mas,
arrisco dizer, sem escola não há literatura. A escola
talvez não seja problema… um problema talvez esteja no
fato de que, hoje, a literatura, a tradição literária,
está sendo acusada sistematicamente de, sem saber,
falocêntrica, eurocêntrica, brancocêntrica, elitizada,
etc. É uma questão... mas para outro momento.
14. HP – Para finalizar o nosso bate-papo, Rogério,
conte-nos um segredo: Você já tem algum novo livro sendo
finalizado, ou os seus leitores ainda vão ter que
amargar, mais uma vez, 30 anos de espera?
14. RSP – Como disse, Henrique, é possível que lance no
início do ano que vem um livro de poemas. E estou
pensando em publicar as duas peças de teatro que
mencionei.
Dourados, 1º de outubro de 2024
|